A
transição para a era digital é a mais radical transformação da nossa história
intelectual desde a invenção do alfabeto grego. Sim, o momento é histórico: há
mudanças profundas na leitura, na escrita - e talvez até dentro do cérebro
humano.
A revolução da internet e dos tablets mudou a maneira como usamos a linguagem - e está
afetando nosso modo de pensar
Veja
A revolução do pós-papel
A transição para a era digital é a mais radical transformação da nossa história intelectual desde a invenção do alfabeto grego. Sim, o momento é histórico: há mudanças profundas na leitura, na escrita - e talvez até dentro do cérebro humano.
por André Petry
Veja
A revolução do pós-papel
A transição para a era digital é a mais radical transformação da nossa história intelectual desde a invenção do alfabeto grego. Sim, o momento é histórico: há mudanças profundas na leitura, na escrita - e talvez até dentro do cérebro humano.
por André Petry
Sócrates. o homem mais
sábio de todos os tempos, estava enganado. Com a genial invenção das vogais no
alfabeto grego, a escrita estava se disseminando pela Grécia antiga - e
Sócrares temia um desastre.
Apreciador da linguagem oral, achava que só o diálogo, a retórica, o discurso,
só a palavra falada estimulava o questionamento e a memória, os únicos
caminhos que conduziam ao conhecimento profundo, à sabedoria. Temia que os
jovens atenienses, com o recurso fácil da escrita e da leitura, deixassem de
exercitar a memória e, como a palavra escrita não fala, perdessem o hábito de
questionar. Sua mais conhecida diatribe contra a escrita está em Fedro, de
Platão, seu fiel seguidor. Ali, Sócrates diz que a escrita daria aos
discípulos "não a verdade, mas a aparência de verdade". O grande
filósofo intuiu que a transição da linguagem oral para a escrita seria uma
revolução. Foi mesmo, só que numa direção promissora. Permitiu o mais
esplêndido salto intelectual da civilização ocidental.
Agora, 2500 anos depois, estamos às voltas com
outra transição revolucionária. Da cultura escrita para a digital, há uma
mudança de fundamento como não ocorre há milênios. A forma física que o texto
adquire num papiro de 3000 anos antes de Cristo ou numa folha de papel da
semana passada não é essencialmente distinta. Nos dois casos, existem enormes
diferenças de qualidade e clareza, mas é sempre tinta sobre uma superfície
maleável. Na era digital, a mudança é radical. O livro eletrônico oferece uma
experiência visual e tátil inteiramente diversa. É uma outra forma. Como diz o
francês Roger Chartier, professor do College de France e especialista na
história do livro, "a forma afeta o conteúdo". A era digital,
sustenta ele, nos fará desenvolver uma nova relação com a palavra escrita.
Para a neurocientista Maryanne Wolf, amora de Prousr e a Lula, um livraço
sobre o impacto da leitura no cérebro, o momento atual é tão singular quanto o
da Grecia: "Como os gregos antigos, vivemos uma transição dramaticamente
importante no nosso caso, de uma cultura escrita para uma cultura mais
digital e visual".
Há séculos que. depois da argila, do papiro e do
pergaminho, a humanidade transmite conhecimento no papel. Dos livros
manuscritos pelos monges medievais à página enviada por fax, era sempre papel.
Lentamente, escrita e leitura passaram a se dar através de telas de vidro -
mais propriamente de cristal líquido, de diodos emissores de luz. Começaram a
sair livros para leitrura em palmtop, ainda nos anos 90, quando já era possível
lê-los no computador e em laptop. Depois. vieram os smartphones. Por fim, os
tablets e os leitores eletrônicos. desses que acabam de chegar ao mercado
brasileiro: Kobo, Kindle, Google Play. Nos países ricos, a transição está mais
avançada. Desde o ano passado, a Amazon, um mamute do varejo on-line, já vende
mais livros digitais do que livros físicos no mercado americano. Na
Inglaterra, a virada aconteceu em agosto, em grande parte em razão da acolhida
estrondosa de Cinquenta Tons de Cinza. de E.L. James, que vendeu 2 milhões de
exemplares eletrônicos em quatro meses. Na Alemanha, o ano deverá fechar com a venda de 800000
leitores eletrônicos e tablets, o triplo em relação a 2011. Sob qualquer
ângulo que se examine o cenário. é um momemo histórico. Fazia mais de quatro
milênios, desde que os gregos criaram as vogais - o "aleph' semítico era
uma consoante, que virou o "alfa" dos gregos e depois o "a"
do nosso alfabeto latino -, que o ato de ler e escrever não sofria tamanho
impacto cognitivo. Havia mais de cinco séculos, desde os tipos móveis de
Gutenberg, o livro não recebia intervenção tecnológica tão significativa.
Na era do pós-papel, a leitura, antes um aro
solitário por excelência, está virando outra coisa. O Kindle, da Amazon, tem
um dispositivo que exibe os trechos do livro sublinhados por outros leitores.
Informa até quantos o fizeram. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado
de Assis, por exemplo, cinco leitores assinalaram uma frase do probo Jacó que
não era Medeiros, nem Valadares ou Rodrigues, era Tavares, na qual ele se
desculpa por mentir porque "a paz das cidades só se podia obter à custa de
embaçadelas recíprocas". Logo será possível entrar em contato com esses
leitores, mandar-Ihes um e-mail. O pesquisador Bob Stein, fundador de uma
entidade que estuda o futuro do livro, diz que a leitura solitária será
substituída por uma atividade comunitária eletronicamente conectada. É o que ele
chama de "leitura e escrita sociais".
Já existem "livros enriquecidos", que
trazem trilha sonora, vídeos e fotografias, novidades já disponíveis no
Brasil. Na Inglaterra, a edição enriquecida de Aventuras de Sherlock Holmes
emite sons - gritos, trovões, ventos uivantes - à medida que o leitor avança
nas páginas. Tudo é acionado automaticamente. Uma edição de On the Road (Na
Estrada), clássico de Jack Kerouac, traz mapa, biografias, fotos e um áudio de
quase dezessete minutos do autor lendo um trecho do livro, de origem até hoje
desconhecida.É um aplicativo para tablet. A "versão enriquecida" de
um livro é uma tolice para quem arar as 1500 páginas de Guerra e Paz, mas é
excelente como material de pesquisa, fonte documental.
Até os segredos da leitura, antes indevassáveis
na mente do leitor, agora estão sendo revelados. Amazon, Apple e Google espiam
o leitor a qualquer hora. Sabem quantas páginas foram lidas, o tempo consumido,
os títulos preferidos. A Bames & Noble, a maior cadeia de livrarias dos
Estados Unidos, analisando dados colhidos pelo seu leitor eletrônico, O Nook,
descobriu que livros de não ficção são lidos de modo intermitente. Os romances,
não. Leitores de policiais são mais rápidos que os de ficção literária. São
informações, impensáveis no mundo do papel, que revelam hábitos de leitura e
vão abastecer as editoras para atender ao gosto do público. Nos EUA, já existe
um movimento de "proteção da privacidade do leitor", destinado a
disciplinar ate onde as editoras podem ir. No tempo do papel - é ainda o tempo
de hoje, mas é cada vez mais um tempo passado -, a única forma de espiar a
mente de um leitor era por meio da leitura furtiva de uma anotação manuscrita
na margem da página de um livro perdido num sebo. Parece que faz décadas.
O ofício do escritor - pelo menos daquele escritor
que está abaixo dos palhaços mas acima das focas amestradas, como diria John
Steinbeck - também passa por uma metamorfose. Há editoras que já testam livros
digitalmente antes de lançar a versão impressa. A Sourcebooks, de Chicago,
divulga a edição preliminar on-line e pede sugestões aos leitores, as quais os
autores, às vezes, incorporam à versão impressa. A Coliloquy, criada há um
ano, é uma editora digital cuja proposta são livros coletivos, ou "sociais".
Os leitores sugerem personagens e tramas, as preferências são enviadas ao autor
(ou autores), que adapta o texto ao gosto da maioria. Os leitores palpitam até
sobre a aparência dos personagens - cor dos olhos, dos cabelos, porre físico. O
site da Coliloquy diz que "o resultado é uma experiência narrativa
incrivelmente fluida e imersiva". É um self-service literário. Daí não se
espera nenhuma obra-prima, mas quem sabe? Bernard Shaw dizia que "a
estrada da ignorância é pavimentada de bons editores".
A escrita no universo on-line é o próprio portaI
da estrada da ignorância, com pontuação de Murphy, siglas leporídeas,
exclamações pandêmicas!!!, tudo num patoá onomatopeico de hehehes e rã-rã-rás
enfatizado por LETRAS GRANDONAS ASSIM. O pior talvez sejam os textos sem
carnavalização gráfica. "O texto no computador fica limpo, organíizado,
justificado", alerta o professor Robert Damton, da Universidade Harvard,
respeitado historiador cultural. "Fica tão bem que parece dispensar
revisão e pode ser despachado com um clique. Frequentemente o é, para desgraça
de quem preza a clareza e o estilo." A escrita, qualquer escrita,
floresce no mundo digital, mas a leitura, a boa leitura, murcha.
"Nunca escrevemos tanto", diz a professora
Helen Sword, estudiosa da escrita digital na Universidade de Auckland, na Nova
Zelândia, "O lado negativo é que muitos habitantes do maravilhoso mundo
digital perderam, ou nunca tiveram, a habilidade de escrever uma prosa com
estilo, bem estruturada," (Helen conta - com espanto - que já viu sua filha,
universitária de 21 anos, lendo Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, num
iPod Touch.)
Para desconforto dos escritores, a vida digital é
veloz. Uma história precisa causar impacto na largada. "Tem de ter
sangue na parede já no fim do segundo paragrafo". diz Lev Grossman,
crítico literário da Time. Amores de suspense e mistério estão sendo duramente
exigidos. Antes, um título por ano estava de bom tamanho. Agora, as editoras
acham pouco. Ninguém precisa ser uma pororoca como o americano James Patterson
(um livro por mês, 260 milhões de exemplares vendidos), mas não se pode mais
ficar longe do mercado por muito tempo.
A americana Lisa Scottoline, autora de treze
best-sellers, agora lança dois títulos anuais. Para tanto, entrou em regime de
escravidão. Escreve 2000 palavras por dia, trabalha da manhã à noite e não
folga nos fins de semana.
Jonathan Franzen, o romancista americano mais
festejado da atualidade, tem horror a livros digitais. Diz que são qualquer
coisa, menos livros. "Palavras são palavras", discorda Scott Turow,
autor de thrillers jurídicos que ocupam o topo das vendas. "Não sou sentimental
em relação ao papel." Turow tem problema na coluna. Adora não ter de
carregar livros pesados. Mas, como presidente da Authors Guild, a mais antiga
entidade de escritores profissionais dos EUA, Turow está carregando um piano.
Critica a pressão pela redução da remuneração dos autores no formato digital e
acusa a Amazon de "prática predatória", ao vender livro virtual
abaixo do custo para matar livrarias concorrentes e dominar o mercado
digital.
A invenção dos tablets e leitores eletrônicos é
espetacular. Eles são fáceis de carregar, têm memória para mais de 1 000
livros, baterias que duram horas. A cada novo lançamento, ficam mais legíveis.
Na tela de um iPad um livro de arte é uma arte, com cores vivas, nitidez
perfeita. Mas, tal como Sócrates, os estudiosos do nosso tempo estão
preocupados com o impacto do mundo digital na cultura. Um dos primeiros a
chamar atenção para a deterioração da qualidade da leitura foi o critico
literário Sven Birkerts, ainda na década de 90. Birkens percebeu que seus alunos,
às voltas com aparelhos eletrônicos, não conseguiam ler um romance com
paciência e concentração. É fundamental que as novas gerações educadas no digital
sejam capazes de ler bem, ler para imaginar, para refletir e - eis o apogeu e a
glória da leitura - para pensar seus próprios pensamentos.
O temor é que o universo digital, com abundância
de informações e íntermináveis estímulos visuais e sonoros, roube dos jovens a
leirura profunda, a capacidade de entrar no que o grande filósofo Walter
Benjamim chamou de "silêncio exigente do livro". Durante séculos, os
livros impressos foram aperfeiçoados para favorecer a irnersão. O tipo de
letra, o entrelinhamemo, os espaços em branco - tudo feito como um delicado
'convite à leitura. São aspectos relevantes para quem lê e para quem escreve.
John Updike achava que seus livros só faziam sentido se impressos em determinada
fonte - a Janson. A leitura on-line, de resolução imprecisa, luminosidade
excessiva e crivada de penduricalhos piscantes, é só distração. Os leitores
eletrônicos estão corrigindo boa parte dessas imperfeições, mas ainda têm
longo caminho a percorrer. Estudo feito pelo professor Terje Hillesund, da
Universidade de Sravanger, na Noruega, mostra que, durante uma leitura
reflexiva, as pessoas gostam de manter os dedos entre as páginas, como que
segurando uma ideia de páginas atrás, para revisitá-la quando quiserem.
Intangível e volátil, o livro digital, neste aspecto, é uma nulidade (por
enquanto).
Leitura profunda não é esnobismo intelectual. E
por meio dela que o cérebro cria poderosos circuitos neuronais. "O homem
nasce geneticameme pronto para ver e para falar, mas não para ler. Ler não é
natural. É uma invenção cultural que precisa ser ensinada ao cérebro",
explica a neurocientista Maryanne Wolf. Para tanto, o cérebro tem de conectar
os neurônios responsáveis pela visão, pela linguagem e pelo conceito. Em suma,
precisa redesenhar a estrutura interna, segundo suas circunstâncias. Um cerebro
reorganizado para ler caracteres chineses ativa áreas que jamais são usadas por
um cérebro educado para ler no alfabeto latino do português. O fascinante é
que, ao criar novos caminhos neuronais, o cérebro expande sua capacidade de
pensar, multiplicando ali possibilidades intelectuais - o que, por sua vez,
ajuda a expandir ainda mais a capacidade de pensar, numa esplêndida dialética
em que o cérebro muda o meio e o meio muda o cérebro. Pesquisadores da área de
neurologia cognitiva investigam se a desatenção intrínseca do digital está
afetando a construção dos circuitos neuronais.
É cedo para saber. Por via das dúvidas, é
importante garantir que um jovem forme circuitos neuronais amplos antes de render-se
por completo à rotina digital. A boa literatura ajuda. É desnecessário fazer
pesquisa científica para descobrir o impacto que nos causa a maestria de Amon
Tchekov falando de uma dama e seu cachorrinho. Mas até existe pesquisa. Em
2008, cientistas da Universidade de Toronto, no Canadá, reuniram 166
universitários e aplicaram um teste para avaliar características como
extroversão, estabilidade emocional, afabilidade. Em seguida, dividiram os
estudantes em dois grupos. Um grupo foi convidado a ler "A dama do
cachorrinho", de Tchekov, pequena pérola sobre a angústia e o arrebatamento
de um casal de amantes. Outro leu a mesma história, só que em forma relatorial.
Depois, os pesquisadores reaplicaram o teste. O grupo que lera a prosa de
Tchekov mudara significativamente a percepção sobre suas emoções. O outro, que
lera um texto burocrático, mudara muito menos.
A arte acaricia a alma, prova a pesquisa, mas
haverá arte literária na era do pós-papel? É essencial que jovens digitais,
crescidos na era do "selecione, corte e cole", sejam educados a
respeitar a integridade de um texto. É uma violência tirar um pedaço de O
Eterno Marido, de Dostoievski, e pôr em Dom Casmurro, de Machado de Assis. Ou
"selecionar" um trecho de Madame Bovary, de Gustave Flaubert, e
"colar" em O Primo Basilio, de Eça de Queiroz - por mais semelhança
dramática que haja entre essas obras. Nem tudo o que é bom é interativo. A
crítica literária Marjorie Perloff (fã da poesia concreta brasileira) diz que a
tradicional imagem do gênio - a mente brilhante que refaz o mundo desde seu
reconditório - está morta. O excesso de informação é tal que os novos gênios serão
banais, sem originalidade. A genialidade estará no domínio e distribuição da informação,
não na sua reinvenção. Outros, como o poeta Kenneth Goldsmith, que escreveu um
livro sobre o assunto, sustentam que a colagem, a apropriação - até o plágio, o
tripé "selecione-corte-cole" - serão a tônica na literatura digital.
É assustador.
Mark Twain gostava de arremessar um livro no gato
só para ver o bichano saltar em pânico. O poeta Vinicius de Moraes lia e
escrevia na banheira. Para o argentino Jorge Luis Borges, que morreu cego mas
nunca enxergou direito, o paraíiso não seria feito de jardins e fontes, mas de
bibliotecas. Orhan Parnuk, o turco que ganhou um Nobel, empilha no criado-mudo
os clássicos que relê: Anna Karenina, Os Irmãos Karamazov e A Montanha Mágica.
Gabriel Gariía Márquez tem 85 anos, mas, quando jovem, lia algumas páginas de
dicionário todas as manhãs. Tudo isso será história na era digital. Não se
joga tablet no gato. É perigoso levar aparelho eletrônico à banheira. As
bibliotecas mudarão de aparência, talvez fiquem menos paradisíacas. Os
dicionários já estão deixando de ser impressos, pois é mais fácil atualizá-los
digitalmente - e, na nova era. não há o que empilhar no criado-mudo além de
um leitor eletrônico com milímetros de espessura. Mas a era digital tem um
futuro carregado de promessas. Se será estéril (como temia Sócrates com a
escrita) ou se será fértil (como a história se revelou), depende só de nós.
"É preciso ser cético, duvidar."
Na juventude, quando estudava direito, Roberta
Shaffer trabalhou na Biblioteca do Congresso dos EUA, em Washington. Gostou
tanto que prometeu voltar quando estivesse no fim da carreira de advogada. Há
sete anos, voltou. Chama a biblioteca, com seu monumental acervo em mais de 400
idiomas, de fabuloso exemplo de democracia". Ela responde pela aquisição
de acervo. Leitora voraz, tem um leitor eletrônico, mas gosta mesmo é de livro
no papel. A seguir, sua entrevista.
Veja - O que a senhora acha da leitura de livros digitais?
Roberta Shaffer - Temos examinado estudos sobre o
impacto da leitura eletrônica no aprendizado. Os estudos ainda não são
numerosos. Mas, até aqui, têm mostrado - e acho que isso vai mudar com o tempo
- que as pessoas extraem mais informação ao ler livros físicos. O olho humano
ainda não está treinado para absorver da tela do computador o mesmo tanto que
absorve do livro de papel. Quando estamos olhando coisas no computador, na
maioria das vezes estamos lidando com material visual ou material pouco denso.
Textos narrativos, técnicos, densos requerem um meio mais estático para a boa
absorção. Mas acreditamos que se trata de uma característica evolucionária. Por
séculos, habituamo-nos à leitura em livros físicos. E só agora, só muito
recentemente, nosso cérebro e nosso nervo óptico estão começando a lidar com
um ambiente diferente. Leva tempo.
Veja - Com o mundo ficando cada vez mais
digital, as pessoas têm vindo menos à Biblioteca do Congresso?
Roberta Shaffer - Infelizmente, o movimento hoje
é menor. Mas, além disso, há outra questão que nos preocupa. As pessoas hoje
têm uma tendência a confiar em qualquer resultado que a ferramenta de pesquisa
Ihes oferece como sendo "a melhor resposta". Isso é preocupante. É a
antítese de como a Biblioteca do Congresso gosta de oferecer informação. O
conhecimento tem círculos concêntricos e a resposta que oferecemos está no
centro do círculo, mas há todo um entorno. Nossa missão é dizer: "Esteja
alerta sobre todas as ondulações ao redor da resposta central, todas as
ondulações que tiveram impacto ou estão de algum modo relacionadas com o tema
da sua pesquisa". Na internet, por exemplo, as pessoas dependem do que
Ihes é servido sem saber como a informação foi selecionada. As pessoas não
olham para trás. Isso é perigoso. É o que chamamos de "falácia do
algoritmo".
Veja - É possível reverter essa tendência apesar da
popularização crescente do GoogIe, da Wikipedia?
Roberta Shaffer - Felizmente, sim. A
Biblioteca do Congresso nunca esteve envolvida com ensino elementar ou médio.
Mas, nos últimos dez anos, passamos a trabalhar com crianças desde o jardim de
infância até o último ano do ensino médio. Estamos tentando ensinar aos
alunos, desde a mais tenra idade, como é uma boa pesquisa. No site da
biblioteca, oferecemos uma série de planos de ensino nos quais mostramos como
trabalhar com fontes primárias, o valor de acessar um material original e não
já previamente digerido. Tentamos demonstrar que uma mesma palavra pode ter
tido um significado no século XIX e outro no século XX. É uma forma de mostrar
a importância do contexto. Sobretudo, a ideia é treinar as crianças a não
aceitar a primeira resposta que salta na tela do computador. É preciso ser
cético, duvidar.
Veja - Apesar de tudo, as pessoas estão lendo mais?
Roberta Shaffer - Temos duas tendências
assustadoras nos Estados Unidos. Uma é o analfabetismo. Há gente aprendendo
por outros meios - auditivo, visual. Não há a mesma pressão para ler de quando
éramos uma sociedade estritamente textual. A outra tendência é gente que sabe
ler, mas não lê. Só lê on-line, e-mails, blogs. Não faz leitura em profundidade.
Considero uma tendência assustadora.
Veja - A senhora lê livros digitais?
Roberta Shaffer - Leio de tudo. Viajo muito no meu
trabalho e, antes, levava sempre uma mala de livros. Agora, ando com meu
leitor eletrônico carregado de coisas que podem me interessar. Levo material
clássico, contemporâneo, pilhas de jornais e revistas. Mas, talvez devido a minha
idade, vejo que minha leitura eletrônica é superficial. Quando quero fazer uma
leitura densa, mais concentrada, prefiro recorrer aos livros impressos.
Veja - Qual o acervo da biblioteca em termos de livros
digitais?
Roberta Shaffer - É uma coleção pequena, ainda,
porque não colecionamos leitura popular, a menos que tenha algum valor para
pesquisa, nem material didático. Esses dois critérios excluem grande parte do
que está sendo produzido em formato digital. Mas temos um acervo de 158 milhões
de itens em mais de 420 línguas. Não temos apenas livros. Temos filmes, fotografias,
músicas, manuscritos, partituras, notações coreográficas, uma fenomenal coleção
de mapas. A biblioteca é aberta a todos, não cobramos nada nem perguntamos o
motivo da pesquisa. Qualquer um pode vir até aqui, qualquer um pode ver os
cadernos de Galileu, tocar numa carta escrita por George Washington. Acreditamos
que o conhecimento não é o domínio apenas da elite financeira ou intelectual.
Fico orgulhosa do meu país por oferecer isso. Considero a Biblioteca do
Congresso um exemplo fabuloso de democracia.
Como chegar à futuras gerações
Na era digital, nunca foi tão fácil publicar um
livro e, no entanto, nunca foi tão desafiador preservar o que é publicado. As
bibliotecas começam a formar acervos digitais, mas ainda não têm certeza de que
o material chegará íntegro às mãos dos que virão depois de nós. O avião já tinha
levantado voo de Porto Príncipe, capital do Haiti, naquele fatídico 12 de
janeiro de 2010. Carregado com uma série de documentos, incluindo o diário
oficial da Justiça haitiana, o avião cumpria uma missão de rotina: levar as
publicações para os arquivos da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, em
Washington. Quando faltavam sete minutos para as 5 da tarde, o avião já voando
em direção à Flórida, a terra começou a tremer- matou mais de 300000 pessoas e
incinerou a memória do Haiti, no pior terremoto em 200 anos. Depois da
catástrofe, a Justiça não tinha como funcionar. Tudo fora destruído. Não havia
cópia das leis, dos códigos, das sentenças, das atas dos julgamentos. Os
bibliotecários do Congresso americano fizeram então um esforço concentradó:
reuniram o acervo legal que tinham sobre o Haiti, uma coleção iniciada nos anos
1820, e o complementaram com material de cinco ou seis bibliotecas de outros
países. Em questão de meses, devolveram aos haitianos toda a sua memória
jurídica – desde 1820 até o dia do terremoto. A preservação da história é mais
do que um presente ao futuro, como mostra o fenomenal caso do Haiti. Na era do
pós-papel, no entanto, as bibliotecas do mundo inteiro – inclusive a do
Congresso americano, a maior de todas - estão enfrentando o desafio de como
arquivar livros digitais. Julie Sweetltind- Singer, autoridade em preservação
digitai da Universidade Stanford, na Califórnia, diz que é mais fácil preservar
livro físico do que virtual. Se o papel não contiver ácido, um livro impresso mantido
em baixa luminosidade sob temperatura amena dura um século. A informação
digitaI requer um manejo técnico, uma decodificação, que precisa ser legada ao
futuro. O inventor Thomas Edison (1847-1931) gravou seus primeiros experimentos
em cilindros de cera. Quando. essa tecnologia foi superada, as gravações
ficaram inacessíveis por maís de 130 anos. Há apenas quinze anos se conseguiu
reinventar a tecnologia para resgatar o que estava guardado, quase perdido,
naqueles cilindros. Na era digital, a atualização de livros é uma barbada. No
mês passado, a Macmillan, editora inglesa, anunciou que não vai mais imprimir
seus dicionários – não em tom saudosista, mas em tom de libertação. É mais
fácil e mais barato atualizar em versão digital. A Enciclopédia Britannica já
deixou de sair em papel. Mas a atualização fácil traz um problema para os
arquivistas: o que será feito das edições anteriores de um livro? Da primeira
edição? No mundo do papel, a primeira edição tem valor histórico. Em 1623, a
biblioteca de Oxford comprou o chamado First Folio, volume com 36 peças de
William Shakespeare. Quatro décadas depois, saiu outro volume, mais completo, e
Oxford desfez-se do First Folio. Erro doloroso. Em 1905, conseguiu reaver o
volume. Está bastante deteriorado, mas até isso nos informa a popularidade de
cada obra: as páginas de Romeu e Juliela estão se desfazendo, de tão
manipuladasque foram, enquanto as de Rei João estão em ótimo estado.
Oxfordplaneja digitaIizar o First Folio para quese possa “folheá-lo” on-líne.
Na era digítaí,a editora atualiza o livro eletronicamente sem nem informar o
leitor. A Apple faz esse serviço, de graça. É ótimo, mas é uma memória que se
apaga. Edwín Schroeder, diretor da esplêndida biblioteca de manuscritos e
livrosraros da Universidade Yale, cujo acervotem I milhão de itens, alerta para
essanova situação: “De certo modo, nós alugamoso livro digitaI, não o
adquirimos.A empresa segue com controle do material”.Em 2009, em razão de um
problema de direitos autorais, a Amazon apagou remotamente dois livros de
George Orwell, 1984 e A Revolução dos Bichos. de milhares de Kindles. Pediu
desculpas depois, mas foi um lembrete assustador de como é frágil a posse que
do livro digital. A “nuvem computacional”, nome dos servidores remotos que
guardam a memória do que se carrega eletronicamente, é uma imensa, gigantesca
biblioteca virtual acessível de qualquer lugar. A Apple tem sua própria nuvem –
a iCloud -, que arquiva todos os dados de todos os aparelhos de todos os
usuários. E se, por uma falha qualquer, essa nuvem se apagar? Eis a resposta do
editor Jason Epstein, um dos fundadores do New York Revtew 01 Books: “Os livros
contêm civilizações inteiras, uma conversa permanente entre o passado e o
futuro. Sem essa conversa, estamos perdidos”. Embora não tenha nascido ontem, a
era digital ainda é um mundo todo novo. Nos Estados Unidos, está sendo criada a
Digital Public Library of America, uma biblioteca digital que oferecerá seu
material globalmente. A biblioteca pública de Nova York, instalada num
magnífico prédio no coração de Manhattan, está rediscutindo a política de
aquisições, o acervo digital, a relação com outras bibliotecas da cidade – um
debate que já rendeu polêmicas incandescentes. O intercâmbio de material entre
bibliotecas agora pode se dar com um clique. Recentemente, a American Library
Association, que representa as bibliotecas do país, denunciou a tentativa de
algumas editoras de lhes vender títulos digitais a preços superiores aos do
mercado – teoricamente, para compensar pela amplitude do acesso que os digitais
proporcionam. As bibliotecas dizem que a iniciativa viola, numa tacada só, a
liberdade de expressão e o livre mercado. No momento em que se torna um desafio
preservar o que se publica, nunca foi tão fácil publicar. A Amazon criou o
Kindle Direct Publishing. Éum publicador, sistema que permite a qualquer pessoa
escrever um livro e colocá 10 à venda on-line, sem intermediação de agente
literário, editora ou livraria A Apple lançou O iBooks Author, que oferece
enorme gama de recursos. É possível adicionar Vídeos, fotos, até imagens
tridimensionais, úteis para livros didáticos. Em geral, os “escritores
autopublicados” não vendem mais do que 100 ou 200 exemplares. Mas já surgiram
sucessos arrasadores, como Cinquenta Tons de Cinza, da inglesa E.L. James, que
inicialmente saiu por um publicador. É tanta a intimidade entre a palavra
escrita e o mundo digital que já apareceu até quem previsse uma convergência
entre a linguagem humana e a linguagem do computador. É uma bobagem hoje e,
espera-se, amanhã. Afinal, a linguagem humana é sinuosa, ambígua,
contraditória. A dos computadores é feita para ser correta, indubitável. Por
isso, é reta, metálica, fria. É essa diferença que permite aos homens, e não
aos computadores, debulhar palavras. Como deuses de si mesmos. Como James
Joyce, como Guimarães Rosa – cujas obras, esperamos estarão sempre dentro do
avião do terremoto.
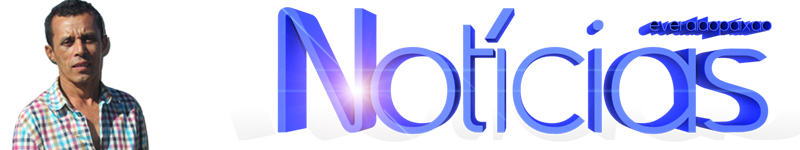



0 comentários:
Postar um comentário
Padrão